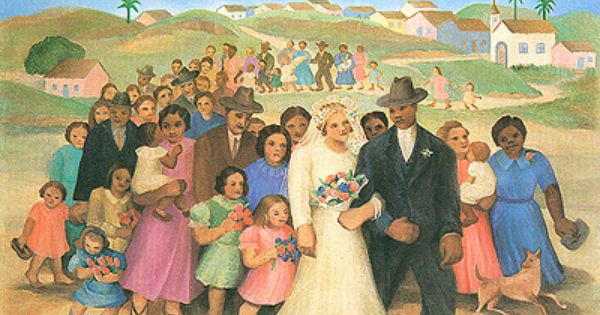“E o tempo se rói
Com inveja de mim
Me vigia querendo aprender
Como eu morro de amor
Pra tentar reviver”
(Aldir Blanc)
Jamais me casei. Quer dizer, não realizei nenhum ritual nem assinei qualquer papel para celebrar minha união com a mulher que eu amava. Poderia explicar essa opção com a mesma piada costumeira que fazia para os amigos, que nós dois gostávamos de viver em pecado. Ou mesmo me defender escrevendo que nossa vida era uma celebração cotidiana do amor, o que é verdade, embora me soe como um subterfúgio. O fato é que me arrependo de não ter realizado uma bonita festa de casamento cujas lembranças agora estivessem estocadas em minha memória. Mas se não nos casarmos foi uma escolha nossa, tornar-me viúvo não.
A primeira vez que ouvi a palavra viúvo dirigida a mim foi na noite em que ela morreu, quando estive no plantão de comunicação de óbitos, no centro de São Paulo, um lugar repugnante perto da Catedral da Sé. A repartição fica embaixo de um viaduto, e estava relativamente movimentada, por conta do crescimento de casos de Covid-19. Cheguei lá por volta das quatro da madrugada, ainda sob efeito de tudo que havia vivido horas antes, sentei-me em um sofá puído, ao lado de um gato malhado que dormia impávido, e esperei o chamado do escrivão. O cheiro do lugar era bem desagradável. Quando me coloquei diante dele, disse:
– Vim comunicar o falecimento da minha esposa.
– Vocês eram casados?
– Não. Vivíamos em união estável, há mais de 15 anos. Temos dois filhos.
– Certo, vou pôr aqui que a comunicação de óbito foi feita pelo viúvo, ok?
– Ok
– Meus pêsames, ela era muito nova.
– Obrigado, era sim.
– Deus lhe proteja.
E assim foi que, sem noiva, papel passado ou chuva de arroz, tornei-me viúvo.
Horas depois, no velório, recebendo condolências de familiares, a palavra reapareceu, quando encontrei-me com a avó de Lia. Não lembro exatamente sobre o que falamos, nem como, nem onde – poucas vezes me senti tão absorto – apenas sei que a viuvez foi o assunto. Creio que Dona Ione queria me alertar pra algo que ela conhecia bem, pois seu marido faleceu há décadas e ela jamais se casou outra vez.
É parte do ritual que pessoas que viveram suas próprias experiências de morte queiram partilhá-las no afã generoso de mitigar a dor alheia. Uma amiga, por exemplo, me relatou que sua mãe, mesmo separada do pai, depois da morte dele, passou a se apresentar às pessoas como viúva porque achou que era uma condição mais nobre que a de desquitada.
Eu pouco havia pensado sobre o significado social ou emocional de ser viúvo até me tornar um. Como herdei de meu pai certa morbidez, para mim não era difícil projetar minha morte prematura. Podia até imaginar Lia linda, de preto, viúva, ao lado do meu caixão, chorando minha ausência. Meus amigos reunidos, contando piadas estúpidas e lembrando minhas baboseiras. Mas jamais o oposto. E, de repente, sobrou pra mim escolher as roupas com as quais ela seria cremada, a música que tocaria em seu funeral, a urna onde ficariam depositados seus restos mortais (escolhi uma biodegradável), comunicar ao Estado que a partir de 7 de maio seu nome deveria constar da lista dos mortos, dar um último beijo em sua face inerte, fechar seu caixão.
Não sei onde li, portanto, a informação pode estar incorreta, que Santos é a cidade do Brasil com maior proporção populacional de mulheres viúvas. Deve ser isso mesmo, porque estamos na cidade mais feminina do estado de São Paulo, com cerca de 54% de mulheres. E o número de idosas também é grande. Isso me faz crer que tenhamos uma proporção bem grande de viúvas e viúvos caminhando entre nós pelas ruas do Gonzaga ou no calçadão da praia. E eu sou um deles, uma fagulha dessa estatística que me ajuda a aceitar que minha história é só uma entre tantas.
No caso das mulheres mais velhas, muitas devem estar se sentindo livres como nunca, superando décadas de opressão matrimonial. Me vem à cabeça a mãe de um amigo que perdeu o marido depois de quase sessenta anos de casamento. No dia seguinte de sua morte, deixou de preparar a sopa de todos os dias porque a odiava. Era um hábito dele, que ela satisfazia, mesmo a contragosto. A esse meu amigo, disse: nesta casa, sopa nunca mais. Para ela, foi uma revolução.
A viuvez é um estado relativo. Só existe porque o cônjuge morreu. Uma condição que surge no exato momento em que a pessoa que era amada deixa este plano. Morto o marido, morta a esposa, nasce a viúva, o viúvo. No meu caso, com a morte de Lia virei viúvo, sem precisar firmar qualquer contrato para isso – se precisasse não assinaria. E caso encontre uma outra pessoa para dividir minha vida, deixo de sê-lo. Isso faz da viuvez um estado, além de relativo, potencialmente transitório.
O luto também é filho da morte, mas muito diferente. Alguém, por carência ou desespero, pode optar por deixar de ser viúvo e iniciar um outro relacionamento mesmo sem que o luto tenha se encerrado. Provavelmente, essa solução levará ao sofrimento de todos os envolvidos. Mas não é raro que ocorra. Afinal, há um senso comum que afirma que somente amando novamente o luto deixa de existir e a viúva e o viúvo podem se livrar dessa triste alcunha. Sim, porque para a maioria das pessoas a viuvez é um estado triste, que deve ser superado.
Eu não acho nem uma coisa nem outra. Afinal, é atributo exclusivo dos viúvos sentirem-se sós? Não me parece. E sentir saudade? Também não. A mistura de solidão e saudade, então? Pode ser isso, o viúvo vive imerso simultaneamente na solidão e na saudade, esse passa a ser seu habitat. Mas essa também não é a casa do órfão? Poderíamos pensar a viuvez como uma espécie de orfandade? Se sim, há uma diferença importante, a de que o órfão jamais terá como superar essa sua condição. A mãe ou o pai mortos são insubstituíveis. Tenho mais perguntas que respostas. Por exemplo: e se não me incomodar ser viúvo? E se para mim for impossível superar a morte de Lia? E se eu não quiser que o amor pela minha companheira se esvaia, porque ele é meu alimento? Estou doente, preciso de ajuda, choque elétrico, ayahuasca, Rivotril, cachaça? Tirando o choque, encaro tudo.
Não encontrei farta literatura sobre a viuvez. Confesso também que não fiz buscas exaustivas. Entre as opções, pareceu-me particularmente interessante “A história de uma viúva”, de Joyce Carol Oates, em que ela relata de forma comovente a perda do marido, com quem viveu quarenta e sete anos e vinte e cinco dias. Não tenho como fazer o cálculo exato dos meus dias ao lado de Lia, e invejo Carol porque a vida lhe concedeu muito mais tempo de felicidade conjugal do que a mim. Mas me consolo ao reconhecer que o que tivemos, eu e Lia, foi absolutamente único. E em meu convívio com o tempo, persigo os versos da canção do Aldir Blanc: “Ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar, e eu não sei”.
*Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião do Folha Santista